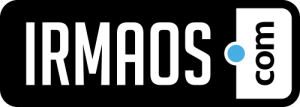Era um pouco mais de três da tarde quando ligaram para o hotel. Leandro já preparava a ida para o aeroporto Salgado Filho, quando avisaram que sua sogra, a Dona Inês, não estava bem. Chamaram por ele, e o bom senso dizia que a melhor coisa a fazer era ir à casa da pobre mulher. Digo “pobre” não exatamente pela condição financeira, mas pelo estado de saúde, que já não andava lá essas coisas. Dona Inês vinha dando sinais de que partiria para o além – era questão de tempo, mas a ideia da família era que isso levasse um pouco mais de anos, uns três ou quatro.
Leandro, servidor público que fora ao Sul apenas para um curso intensivo ligado à sua área de trabalho, não esperava por essa. Ainda mais na hora de voltar para São Paulo. Tinha saudades de casa, da mulher, das crianças, até mesmo da cidade onde se acostumara a viver, com todo o seu tumulto. E – aqui pra nós – sua relação com a sogra nunca tinha sido lá grande coisa. A velha era terrível! Viúva, tinha medo de “colocar a filha nas mãos de qualquer um”, de modo que havia tentado, de várias formas atrapalhar seu namoro com Lucinha. Nunca tinha “botado fé” no rapaz, que, por sua vez, convenhamos, também não prometia muito em eras passadas. Não tinha emprego fixo – trabalhava como balconista numa loja de autopeças o coitado. Não tinha pai, nem mãe, seu único parente vivo era a tia Naná, já de idade avançada. O jovem jamais fora do tipo agressivo, respondão, mas guardava no íntimo um rancor calado pela “criatura”, maneira como chamava Dona Inês nos primeiros anos. E esse rancor ficara por ali e se acomodara ao longo dos tempos.
No entanto, com o andar da carruagem, o balconista se casara com a Lucinha, os dois acabaram passando pelos trancos e barrancos da vida, foram aprendendo com quantos paus se faz uma canoa, aguentaram pontas daqui e dali e, aos poucos, vinha surgindo alguma tolerância entre as partes, tanto de lá quanto de cá. A tia Naná falecera, e a família da esposa se transformara no único vínculo familiar que restava. A sogra, por fim, acabara se acostumando com a ideia de tê-lo entre os familiares – “O único parente que se escolhe é o marido”, dizia ela com certo desdém na entonação da voz. “Cada um que escolha o seu, e os outros que aguentem”, completava, dando à sequência frasal uma sonoridade melódica similar a de um réquiem.
É certo que o rapaz tinha seus defeitos, mas entre eles não se encontrava o da preguiça. Ao contrário, era batalhador. Estudava de madrugada, após um expediente cheio na loja, e fazia o que podia para manter as coisas em ordem, sem perder uma certa perspectiva de futuro. Até que um dia a sorte lhe sorriu, e seu esforço foi recompensado: passou num concurso para um cargo em nível de segundo grau na Assembleia Legislativa de São Paulo. No início, sobrou para Lucinha explicar à mãe que eles sairiam de Porto Alegre. Mas, afinal, lá no fundo do coração, a velha sentia algum alívio por ver o “menino tomando jeito na vida”. E assim, Leandro foi conquistando pequenas vitórias no tocante ao respeito da família de Lúcia. Mas essa situação com a Dona Inês ficava no banho-maria: ele, que não era malcriado, adotara uma posição de distância respeitosa, e uma parceria tácita surgira da parte dela. Daqueles códigos de ética comportamental que ninguém escreve, mas que vão se estabelecendo pouco a pouco, do tipo “eu não mexo com você, e você não mexe comigo”. Aqueles que se fizeram mais próximos do casal até comentavam que o tempo, por si só, encarregara-se de dar molde às roupas que todos já vestiam com algum conforto.
De fato. Dava até pra passar o natal juntos, às vezes, telefonar no dia do aniversário de alguém, comentar com algum dos cunhados um jogo entre Grêmio e Internacional, enfim, levar a vida. Estava de bom tamanho da forma como vinha, até que o telefone tocou, e o Leandro voltou de seus pensamentos – teve a impressão de que algo ruim poderia acontecer com a mãe de Lucinha. O pior é que o ponteiro do relógio tava mais pra lá do que pra cá, isto é, mais para quatro do que para três horas. O avião decolaria às cinco e pouco. Se fosse ver a sogra, teria de ser logo. Talvez a coisa não fosse tão complicada assim.
Desceu e fez o check out. Pegou a pequena mala que levara e saiu até o táxi, perguntando a si mesmo se não seria mais prudente ir para o Salgado Filho. Mas não podia. E se a situação da Dona Inês fosse grave? Tinha de ir, e a fisionomia interrogativa do taxista lhe cobrava uma resposta. “Bonfim”, ele disse finalmente, acrescentando o nome da rua, que ficava perto de uma pracinha, etc. e tal. Enquanto isso, a esposa, com certo ar de aflição na voz, já ligava para o celular dele.
Quando chegou à casa, viu que o irmão de Lucinha já estava lá. Realmente, a situação da Dona Inês não era nada boa, e o cunhado chamara uma ambulância. Correram com ela para o hospital, antes que seus outros filhos chegassem. Com o pouco de lucidez que ainda lhe restava, antes de entrar no carro, Dona Inês dirigiu um olhar significativo para o genro e, com alguma dificuldade, sussurrou-lhe uma palavra difícil de ouvir, ficando a tarefa de entender quase que totalmente a cargo da leitura labial: “fi…lho…”, dizia ela. “f…f…i…lho…”. E não conseguiu dizer mais nada. Seu olhar foi se apagando e sumindo. E enquanto o veículo seguia apressado, Leandro congelava o momento e só pensava naquela palavra que ouvira. Não esperava por isso. Havia um toque diferente no ar de Dona Inês. Por um lapso de tempo, um fio daquela cronometragem, o rapaz sentiu-se inesperadamente amado. Ele, que perdera os pais cedo na vida e nunca mais ouvira esse som com tanto “cheiro de mãe”, derreteu-se em seu íntimo. Estava impactado, emocionado, sem saber o que fazer dos sentimentos. Algo de grandes dimensões estava acontecendo. Desmanchavam-se barreiras, muralhas, resistências, tudo por causa de uma palavra. Esqueceu-se do voo de volta para casa e dormiu no hospital.
Já era noite em São Paulo, quando três pessoas, duas delas dentro de um avião, conversaram o seguinte diálogo:
– Checando condições da pista – diz o piloto.
– Está molhada e ainda escorregadia. Autorizado para pousar – responde a torre.
– O pouso está liberado?- o piloto tenta confirmar.
– Liberado – repete o controlador de voo.
O avião toca o solo, e o co-piloto lembra:
– Reverso número um apenas.- e complementa – spoilers, nada!
– Ai…! – diz o piloto – olha isso!!
– Desacelera, desacerela! – suplica o companheiro com voz aflita.
– Não dá, não dá!!!
– Ai meu Deus, ai meu Deus!!… Vai, vai, vai, vira, vira…!
E ninguém disse mais nada, a não ser os noticiários.
Era o voo 3054 da TAM, em 17 de julho de 2007, que saiu do Aeroporto Salgado Filho, às cinco e alguma coisa da tarde, com destino a Congonhas, São Paulo. O voo que Leandro perdeu.
A propósito, Dona Inês veio a falecer seis meses depois.
por Zazo, o Nego