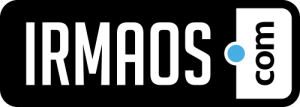Amigos, aqueles de vocês que têm o privilégio de viver em Piracicaba certamente saberão identificar imediatamente o que significa o nome Sud Mennucci. Não a pessoa, cuja história desconheço completamente, mas a tradicional e centenária escola estadual de primeiro e segundo grau.
Prédio suntuoso, recentemente restaurado e tombado como patrimônio histórico de nossa cidade. Nos seus primeiros anos, ilustres estudantes, filhos da aristocracia piracicabana, passaram por suas salas de aula. Naquele tempo, disputavam-se vagas para se estudar lá. Gostava de andar pelos seus enormes corredores de gigantescas paredes, para observar-lhes os quadros de formatura das turmas. Nomes e sobrenomes famosos (pelo menos para Piracicaba), gente que até hoje aparece nas colunas dos jornais, empresários, advogados, médicos, engenheiros, professores universitários. Quanta gente boa.
Óbvio, havia também os ilustres desconhecidos. Eu, por exemplo. Estudei lá por 6 anos, nos anos 80. Cheguei a ser aluno de “seu” Otávio, um professor de matemática à moda antiga. Tão antiga, que o homem dava aula de terno e gravata, no calor sufocante do verão. No inverno, só colocava um colete de lã. A gente sabia o humor dele pela cor do terno. Quando ele vinha no bege, a turma tremia na base. Era dia de Juízo Final! Mas tinha também o “seu” Argemiro, o melhor professor que tive na vida. Lecionava Português e Literatura. Devo a ele o gosto pela leitura e pela escrita. Eram dele os discursos nos dias comemorativos. No finalzinho, já no colegial, tinha a Dona Aurora, professora de Filosofia. Imagine o corinho que a gente começava quando ela apontava no corredor: “Se você fosse sincera, ô ô ô Aurora, veja só que bom que era ô ô ô Aurora!” Ela era gente boa demais. Era o nosso orgulho, porque além de dar aula no Sudão (carinhoso apelido de nossa nobre instituição de ensino), era professora universitária. Isso para nós era o que havia. Passava a aula inteira falando da vida dela, não dava prova nem fazia chamada. O que mais se podia exigir de uma professora?
Tinha os jogos interclasses, em que a gente entrava para apanhar de pouco no futebol de salão, mas um dia conseguimos desbancar o time dos caras que disputavam até os Jogos Abertos do Interior. Pura sorte, é claro. Mas um feito memorável. É que a gente tinha na nossa equipe o Bandória Pé-de-Chumbo. Era um imenso e mal-humorado gordinho que não conseguia correr mais do que cinco minutos, mas que tinha um bicudo potentíssimo. Nossa única jogada era na saída da bola rolar para o Bandória encher o pé. Tiramos cara-ou-coroa, ganhamos, escolhemos a bola. “Vai Bandória e gol!”. Depois, foi só uma questão de segurar o resultado!
Bons tempos. A escola, instalada em um quarteirão formado pelas ruas XV de Novembro, São João, Otávio Teixeira Mendes e Bom Jesus, não tinha muros frontais. Apesar disso, tinha na entrada para a rua São João uma enorme porta de madeira, controlada com rigor quase nazista pelo “seu” Bonato. Sempre tive a impressão de que ele se considerava o guardião do Éden. Levava com esmero a função que dividia com “seu” Balesttero, este mais velho do que ele e, apesar disso, mais compreensivo.
Naquela época, o deslize mais grave que se podia cometer era ser pego fumando em algum lugar da escola. Como sempre detestei cigarro, isso nunca chegou a ser problema para mim. Era até um alívio. Anos mais tarde, na faculdade, chegaria a liderar um protesto contra professores e alunos fumantes que queriam que cheirássemos a porcaria do seu vício trancados numa sala com 50 pessoas. O outro, talvez hierarquicamente colocado um pouco abaixo, mas igualmente rigorosamente punido, era matar aula. Claro que isso não impedia que muitos o fizessem, mas sabia-se do risco.
Brigas, só aquelas provocadas por mexer com a namorada ou ofensas provenientes das tais disputas interclasses. Às vezes tensões que vinham do convívio externo, em clubes ou vizinhança, acabavam explodindo na escola, mas raramente com violência descontrolada. A exceção de que me lembro foi quando nosso colega de classe resolveu mexer com a namorada de um maluco, esquecendo que além de ser uma atitude muito inconveniente, era justamente a namorada de um maluco e que o dito cujo buscava a menina todo dia. Não deu outra. Ao colocar o pé na calçada, foi recepcionado com um taco de beisebol e se não fosse a intervenção do Ari, teria saído com sérias injúrias e escoriações!
Sempre houve os que exagerassem no trato com os professores, mas quando o caso se tornava grave, havia a intervenção dos diretores. Primeiro, da Dona Flor, que na verdade nunca foi flor que se cheirasse. Cair na sala da Dona Flor era a última coisa que um aluno que tivesse amor próprio desejaria. Não sei como ela conseguia, mas chamava a maior parte dos alunos da imensa escola pelo nome. Uma conversinha na sala da diretoria fazia muito marmanjo babar. Depois veio o seu Valente. Este era mais político, não fazia jus ao nome. Seu filho era da nossa turma, o que nos outorgou uma espécie de “respeito” da parte das outras classes. Foi nesta época que um de nossos amigos resolveu, por causa da correção de uma prova em que se sentiu prejudicado, dizer um palavrão para a Dona Gizelda, professora de uma dessas matérias que hoje talvez estejam extintas, tipo Sociologia ou OSPB. Quase rolou um processo de expulsão do colégio.
De onde vêm todas estas reminiscências? Explico. Semana passada caminhava em direção ao posto dos correios aqui no bairro, quando passando embaixo do muro do Sud (agora construíram uma inacreditável muralha ao redor de toda a escola), quase caíram em cima de mim, plenas 9 da manhã, um grupo de alunos, que provavelmente não estavam interessados em dar prosseguimento aos seus estudos, pelo menos naquele dia. Preferiram juntar-se aos outros colegas na praça próxima para uma rodada de erva maldita. E então reparei que devia ter mais gente do lado de fora do que do lado de dentro da escola. Uns fumando, outros batendo papo furado, outros esperando o tempo passar.
Não faz muito tempo, 4 ou 5 viaturas da PM tiveram que ser chamadas às pressas para debelar uma quase rebelião provocada por um grupo de alunos na porta da escola.
Há uns quinze dias presenciei uma cena patética envolvendo esses grupos. A mãe e a avó, passando casualmente pela mesma praça, depararam com a menina que devia estar na escola na companhia dessa ganguezinha, matando aula e fumando maconha. Evidentemente, reagiram com susto, indignação e, creio eu, muito mais, com tristeza. “Por quê?” foi a primeira pergunta que fizeram e a que se repetiu várias vezes. O sentimento de traição, a sensação de “fora de controle” certamente invadiu os corações daquelas mulheres. Fiquei com pena delas.
Pensei em ir atrás e oferecer ajuda. Mas tem a questão “ética”. O que elas podiam pensar ou dizer a mim. Isto era, afinal de contas, um problema delas.
É isso. O problema nunca é nosso. A situação das escolas, seus alunos e práticas é um problema do Estado. Os moradores já solicitaram a construção de um posto policial na praça.
E a gente vai continuar fingindo que isso resolve o problema.